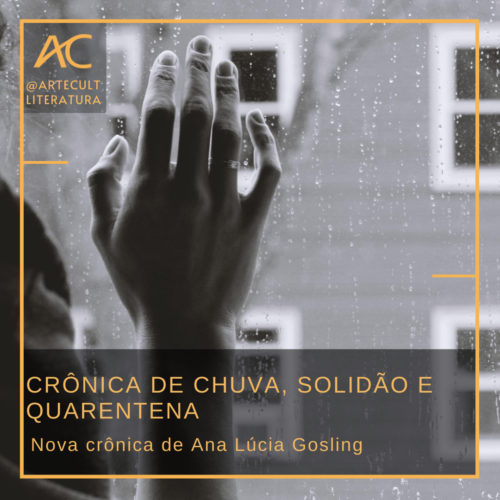
Foto de Saneej Kallingal (site Unsplash)
O tema da solidão rodeou as experiências vividas na semana que se passou.
Participei de um debate sobre o filme “Ela”, que fala do amor num contexto de ficção científica. Na mesma medida, fala sobre a solidão humana.
Maratonei “Amor Moderno”, uma série baseada em cartas enviadas a uma coluna do New York Times. Nem sempre os amores são “modernos”, mas as 8 narrativas são contemporâneas e reais. Há nos protagonistas uma solidão singela e uma vontade grande de pertencimento que emociona, especialmente nos episódios 3, 6 e 8.
No curso que faço, o filme da semana foi “Sombras da Vida”, que, resumidamente, conta a história de um fantasma que retorna a sua casa e observa passivamente o tempo e a vida passarem, sem que possa ser visto. Uma solidão pungente que ultrapassa sua própria existência terrena.
Choveu no sábado, o dia inteiro. E meu dia foi particularmente silencioso, depois de uma semana de muitas interações profissionais e cursos à noite. O silêncio fez sobressair-se o som da chuva. Ela era uma presença ali, contra a minha janela, inibindo a ida à padaria, afastando os pássaros da varanda, sinalizando as forças do mundo. Lembrou-me um poema de Fernando Pessoa:
Chove. Há silêncio, porque a mesma chuva
Não faz ruído senão com sossego.
Chove. O céu dorme. Quando a alma é viúva
Do que não sabe, o sentimento é cego.
Chove. Meu ser (quem sou) renego…
Tão calma é a chuva que se solta no ar
(Nem parece de nuvens) que parece
Que não é chuva, mas um sussurrar
Que de si mesmo, ao sussurrar, se esquece.
Chove. Nada apetece…
Não paira vento, não há céu que eu sinta.
Chove longínqua e indistintamente,
Como uma coisa certa que nos minta,
Como um grande desejo que nos mente.
Chove. Nada em mim sente…
Pessoa, ele próprio, me lembra do sempre presente sentimento de não pertencimento em sua poesia. E eu, como Pessoa, ou, pretensiosamente, inspirada por Alberto Caeiro, nesses dias isolados, modifiquei minha relação com a Natureza e com o silêncio das tardes.
Eu e a solidão nos entendemos. Adoro estar com as pessoas que amo, com os amigos que me arrancam sorrisos, mas aprender a viver sozinho, no meu caso particular, foi uma conquista. Foi o que, no passado, me permitiu jogar em igual condição nas relações desiguais da minha vida, afastando o jugo de algumas delas e me encorajando a interromper aquelas em que meus desejos existam solitariamente.
Mas humanos somos seres sociais. Queremos pertencer. Principalmente, queremos ser amados. Fazemos escolhas de vida a fim de conquistar esse amor, em seu sentido amplo: não só romântico, mas fraterno, universal, pai da admiração e do respeito.
Por isso, a solidão não é a escolha natural, embora precise ser alternativa viável para frear concessões abusivas. Ou para sermos capazes de suportar… uma quarentena. Precisamos bastar-nos mas somos mais felizes nas interações com as pessoas que amamos. Podemos ser felizes sós mas não solitariamente, como se diz por aí.
Amor pede acolhida, retribuição. Se não há, deixa de ser amor para ser solidão. Melhor nos diz Nando Reis numa de suas canções, “Quem vai dizer tchau”:
Tornar o amor real
é expulsá-lo de você
Pra que ele possa ser de alguém

Foto de kira-auf-der-heide (site: unsplash)
Estamos ressentidos da falta dos abraços. Com saudade dos cheiros e das texturas das pessoas que amamos. Dos olhares que validam nossa existência física e oferecem sentidos profundos às nossas falas e reações. Para quem permanece em isolamento, esse tempo de quarentena parece longo demais.
Tomo café olhando a chuva e as janelas do prédio distante. Apesar das luzes acesas, quantas se silenciam? Quantas saudades guardam os corações de quem está ali? Quantos se arriscam a perigos por não suportarem mais as ausências? Ou melhor: que presenças valem o risco de vida?
A pandemia não acabou. Parece ter-se diluído. Mas os gestos estão longe de serem naturais. Mesmos nas ruas por onde já se caminha, não são todas as janelas que se abrem.
Vou, enfim, à padaria. Um homem passa por mim, correndo, de moletom e capuz, com máscara no rosto, e grita: “Oi, Ana!”. Respondo, antes que suma na esquina: “Oi!”. Mas me entristeço: não o reconheci só pela voz, abafada pela máscara.
Quem encontraremos, após todo esse tempo em silêncio, que seremos capazes de reconhecer? O quanto o medo, a solidão, a paz ou a harmonia nos modificaram nesses dias? Quantos de nós ainda somos os mesmos atrás dessas máscaras?
Vou pensar nisso na próxima chuva. Hoje, por aqui, o sol nasceu.













