
Para aqueles que ainda não o conhecem, será um grato encontro. Para quem já conhece, uma ótima oportunidade de saber mais sobre o autor. No AC Encontros Literários desta semana, o escritor Alexandre Brandão numa entrevista exclusiva.
ArteCult: Como a Literatura entrou na sua vida?
Alexandre Brandão: De forma definitiva, no final da adolescência. Quando criança, não fui um grande leitor, mesmo assim duas estórias me marcaram: a do ratinho que confundia a lua com um queijo e João e o pé de feijão. Ambas estavam numa coleção que ficava numa estante acima de minha cama, O mundo da criança. No ensino fundamental, tive um grande encontro com Jorge Amado, ao ler Capitães da areia. Quando Carabolante, o professor, indicou o livro, fui para a leitura, como ia sempre, indisposto, achando que seria chato, mas, logo nas primeiras páginas, fui capturado. Em paralelo, havia a música, principalmente a MPB, que passei a prestar atenção ao ouvir Milagre dos Peixes — ao Vivo, do Milton. Como eu tocava um sofrível violão, comecei a compor. Finalmente, e aí sim, aos 18 anos, me rendi à literatura. Conto como foi: havia chegado em casa nem um pouco sóbrio e rolava na cama, sem conseguir dormir. Naquela mesma estante, ao alcance de minhas mãos, descansava Dom Casmurro. Bem, eis me aqui, lidando com livros. O bruxo do Cosme Velho me baratinou. Em meu Contos de homem, de 1995, há um conto (“A primeira leitura”) de um jovem de 18 anos que, enquanto lê Dom Casmurro, se vê numa história parecida com a do romance, pois é traído pela namorada. O livro saiu quando eu tinha 34 anos, e o conto deve ter sido escrito depois de eu ter 30. Do encontro com Machado ao meu primeiro livro, vivi um bocado e, para a sorte do mundo, deixei a música de lado.
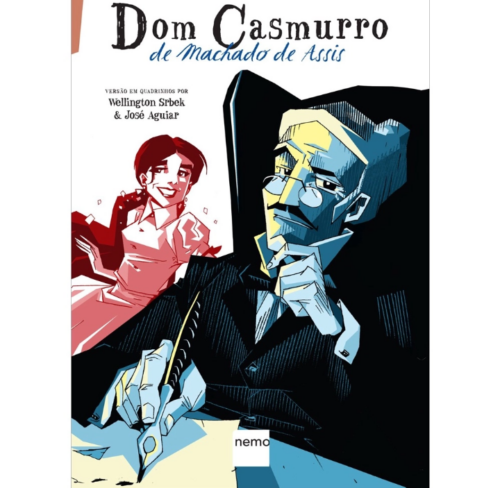
O romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Foto: Reprodução Internet.
AC: Mineiro de Passos vivendo no Rio. O que de seu estado natal ainda existe dentro de você?
AB: É uma pergunta difícil. Veja o caso da praia. Mineiro não tem praia, passa o ano inteiro pensando no mar e, na primeira oportunidade, se manda para Guarapari, Cabo Frio ou Rio de Janeiro — parece que hoje vão até o Maranhão, quando não ao México. Eu tenho a praia à disposição e dificilmente dou um mergulho. Isso é um traço de um mineiro (que leva a vida como se não tivesse praia) ou de um não mineiro (que esnoba o marzão bem ali)? Não sei. O que posso afirmar é que adoro pão de queijo (havia um primo de meu pai que me chamava de Pão de Queijo, isso porque ele ficou sabendo que, na fazenda de minha avó, antes do almoço e sem prejudicar meu apetite, eu havia comido dez pãezinhos). Acho que a culinária é o que me liga a Minas. Sou dos tais que afirmam que o melhor queijo do mundo é o da Serra da Canastra (perto de Passos). Contrariando o lar carioca típico, em minha casa, nunca comemos feijão preto. E meu sotaque, creio, ficou entre Minas e Rio, ou melhor, não o reconhecem como mineiro em Minas nem como carioca no Rio. O resto… resto? Gosto de montanhas, cachoeiras, de conversa fiada e sou meio reservado. Falando assim, me convenço de que sou absolutamente mineiro. No entanto, quando entrei pela primeira vez na sala de aula do mestrado em economia na imponente USP, ao me verem barbudo, de bolsa e cinto bolivianos e sandália, meus colegas de cara me taxaram de carioca. Enfim, sou um pouco de tudo. No Rio, tenho saudades de Minas; em Minas, do Rio.
AC: Fale um pouco dos livros que publicou.
AB: São oito até agora, sem contar as antologias. Cinco de contos, dois de crônicas e um de poesia. Entre a leitura de Dom Casmurro, nos anos de 1970, e a edição de Contos de homem, em 1995, fui me transformando em escritor. De 1982 a 1984, morei com um amigo boliviano, Manuel Gonzalo, que lia muito, em particular os latino-americanos. Foi ele que me apresentou Borges, por exemplo. Assim, lendo de forma desordenada, não demorou para eu ter impulso de escrever (assim como compunha sem conhecimento técnico, comecei a escrever sem grande bagagem). Escrevi um continho — a história de um funcionário da Petrobras às voltas com a sujeira de casa — que se perdeu, mas eu poderia reescrevê-lo, guardo-o bem na memória. O importante foi eu ter gostado da experiência e querido escrever novos contos. Em 1985, me mudei para São Paulo, onde vivi por dois anos. Lá comecei a escrever poesia (voltando, de certo modo, à experiência de fazer letras de música). Três delas marcaram minha estreia, digamos assim, ao serem publicadas no Suplemento Literário de Minas Gerais. Quando voltei ao Rio, escrever estava no sangue. Senti então que precisava de orientação, o que me levou a buscar a Oficina Literária Afrânio Coutinho. Lá fui aluno de professoras incríveis: Lídia Santos, Maria Amélia Mello e Suzana Vargas. Como a oficina era de contos e semanal, passei a escrevê-los assiduamente, um desafio e tanto, levando em conta que a poesia era minha inclinação natural. Em 1991, a turma do Estilingues (eu e seis amigas que nos conhecemos na OLAC) foi convidada a preparar um livro que seria brinde de final de ano de uma empresa. A chegada ao livro consolidou o escritor. Entre 1994 e 1995, meu primeiro livro amadureceu enquanto eu fazia a oficina do João Gilberto Noll (que, inclusive, assinou o prefácio) na UERJ. Passaram-se dez anos até que eu lançasse, pela Bom-Texto, Estão todos aqui, um livro com quatro contos e uma novela. Daí em diante, em espaços de tempo menores, foram saindo os outros livros. Em 2000, a convite de meu amigo, o escritor Marco Túlio Costa, comecei a escrever crônicas num jornal de minha cidade e, então, surgiu o cronista. Em 2012, juntei algumas crônicas em No Osso: crônicas selecionadas e, em 2017, outras em O bichano experimental (Patuá). A coletânea de 2012 saiu pela Cais Pharoux, editora de meu amigo Horácio Soares Neto (infelizmente falecido), uma espécie de cooperativa. Os cooperados eram, além de nós dois, Catarina Pereira, João Paulo Vaz e Marlene de Lima. Todos publicaram pela editora. Antes do livro de crônicas, lancei pela editora A câmera e a pena, reunião de duas novelas, uma que se passa no mundo do cinema e outra, no mundo das oficinas literárias. Em 2014, pela Oito e Meio, saíram os contos de “Qual é, solidão?” e, de 2017 até agora, a Patuá editou os meus três mais recentes: o já citado de crônica, um de contos (Uns e outros mais dois ou três, que faz parte da coleção Estilingues 30, lançada para comemorar nosso convívio desde a OLAC) e o mais novo, de poesia, à qual volto depois de tanto tempo. Nenhuma poesia: uma antologia foi um presente que me dei pelos 40 anos de Rio de Janeiro e seu lançamento, em março de 2020, foi praticamente a última vez que botei os pés na rua. Os poemas do livro foram escritos ao longo do tempo, mas o último, “Senhora do tempo, me conceda um minuto?”, mais extenso, concluído às vésperas de enviar os originais para editora, é um diálogo com a cidade.

No osso: crônicas selecionadas, de Alexandre Brandão. Foto: Divulgação.
AC: Você já disse que ¨produz e convive com números¨. Como concilia números e letras?
AB: Sou economista, formado pela PUC-Rio (1984) e com mestrado sem tese pela USP (só viria a me tornar mestre em 2006, pela Escola Nacional de Estatísticas, ligada ao IBGE, em um curso multidisciplinar). Meu mundo seria aquele, da economia e da academia, o caminho estava muito claro. Terminado o mestrado, faria o doutorado, no Brasil ou fora. Mas, parodiando Peninha, a literatura fez folia em minha vida, porém, mesmo assim, jamais pensei em viver da escrita, o economista estava atento, sabia como o Brasil trata mal seus artistas. Em 1987, de volta ao Rio, fui trabalhar no IBGE e dar aula de economia (na Santa Úrsula e na Unisuam). Portanto, produzo estatísticas há 34 anos (estou prestes a me aposentar). Produzir estatísticas é bem diferente de ser economista. Claro, é um mundo das medições, do concreto, mas é menos pretensioso do que o da economia. O economista, grosso modo, é treinado para ser ministro e fazer o país crescer (erra muito, sabemos). Nunca gostei dessa função. Para falar a verdade, sempre me senti tolhido em meu potencial criativo e, talvez por isso, comecei a imaginar a literatura como um espaço de liberdade. Ali tudo seria possível. De fato não é, mas, ao escrever, sou livre para criar sem me preocupar com resultados palpáveis. Escrevo para dialogar com meu tempo, e estatística nenhuma é capaz de medir se estou longe ou perto de alcançar meu objetivo. Enfim, fui atuar numa área que me atrai mais (e exige conhecimento de economia), a produção de estatísticas e, assim, consegui um trabalho que garante (com altos e baixos) o pagamento dos boletos do dia a dia. Conciliei os números e as letras, e estou feliz por isso.
AC: Você é editor do blog No Osso. O que o leitor encontra por lá?
AB: Principalmente as minhas crônicas. Às vezes, um conto, em particular os do primeiro livro. Pode ser que alguma poesia. Ah, também invento uns “projetos”. Durante um tempo, a cada quinze dias, enviava a um escritor (badalados ou menos conhecidos, iniciantes) uma palavra e pedia que, a partir dela, fosse escrito um miniconto (no máximo 280 caracteres, “regra” nem sempre respeitada). Os 60 textos (30 escritos por homens, 30 por mulheres) estão reunidos, lá no blog, na aba “E tome palavra”. “Alexandre lê poesia” é uma seção de pequenos vídeos (100 ao todo, 50 com poesias de mulheres e 50 de homens) com minhas leituras de poemas, feitas no começo da pandemia, que vão de Drummond a Alberto Bresciani, de Cecília Meireles a Mariana Ianelli. Eu enviava os áudios, via Whatsapp, a uma lista de amigos, até que uma prima sugeriu que eu os compartilhasse no Instagram e no Facebook. Fiz isso e em seguida depositei os vídeos no blog. Por fim, compartilho links para as minhas entrevistas, resenhas de meus livros e contos e poesias publicados em sites e revistas eletrônicas.
AC: Inspiração ou transpiração: o que vale mais?
AB: Alguma coisa faz com que a gente comece. Se há inspiração, ela está aí e não dura muito. Um texto, depois de começado, e se não é abandonado, exigirá muito do escritor. Encontrada a história, será preciso depositar aquele olhar criterioso sobre as palavras e a própria história. É uma trabalheira brava, acho mesmo uma injustiça o escritor não usufruir, ao escrever, dos mesmos benefícios de caminhar, de dar braçadas na piscina, de correr, de puxar ferro em academia. O trabalho vai demandar uma leitura, ou seja, há uma hora em que é bom ouvir um leitor qualificado — essa opinião desencadeará outro embate com o texto, portanto mais suor. O Estilingues sempre foi isso. Nossos textos até hoje, embora com menos frequência, circulam entre nós, um palpita no que o outro está fazendo. Aquela turma que se reuniu em torno da Cais Pharoux também funciona assim. Recentemente, tenho pedido ajuda a outras pessoas que não as desses grupos, ora escritores mais experientes, ora mais jovens e donos de um olhar diferente. Na poesia, é a mesma coisa, embora eu tenha de esclarecer que sou um poeta vagabundo, portanto, me entrego à musa, protegido pela sombra das árvores e bebendo néctares estupefacientes.
AC: Além de contos, você escreve crônicas. Como distingue esses gêneros?
AB: A linha é muito tênue. Às vezes, leio alguns contos meus e percebo que se assemelham a uma crônica (“Outra fila brasileira”, em Estão todos aqui, por exemplo). É parecido, mas não é. Por quê? A crônica não pode ser muito grande, isso me parece fundamental. Como ela nasceu nos espaços miúdos dos jornais, melhor que se mantenha contida. Além disso, a crônica, mesmo quando irritada, brigona, deve lançar um olhar amistoso sobre o mundo. Há uma crônica do Rubem Braga na qual ele fala que, no meio de notícias terríveis do jornal, encontrou o anúncio de que uma árvore de nome Flor de Maio estava “em flor” no Jardim Botânico. Aquela foi a notícia que o capturou, mas, por uma série de contratempos, não foi capaz de levá-lo ao horto. Ele escreve então a crônica para incitar o leitor a ver o espetáculo de curta duração. A crônica é uma luz sobre o pouco importante (penso nos desutensílios do Manoel de Barros) e é também uma floração. Mas há outro limite no qual a crônica esbarra: o artigo de opinião. Ultimamente, com esse cenário beligerante em que vivemos, tenho escrito muito artigo de opinião, e isso me enfurece, pois gosto das crônicas humildes, das que falam da flor de maio. O conto, por sua vez, é menos generoso e é capaz de levar o leitor, sem misericórdia, ao fundo do poço. Ele pode ser engraçado, leve, mas se não hipnotizar o leitor, fracassa. A crônica a gente irá ler, ela é um respiro quando fala da nossa rua, da nossa intimidade — e mesmo quando não fala. O conto, não, teremos de ser forçados a lê-lo. Por quê? Ora, porque ele não raro nos oferece um mundo estranho. Uma história que se passa na Rússia. Uma história que se passa entre bandidos. Uma história que não se passa, feito alguns contos de Clarice Lispector. Como seremos capturados? Não será pela sedução (da seara da crônica), mas pela imposição. Por isso, é importante o início de um conto.
AC: No seu caso, como nasce um conto? E um livro de contos?
AB: Muitas vezes, e mais no início, pelo título. Lembro-me que subia a Timóteo da Costa, no Leblon, e me veio um título: “Relato das taturanas”. Quando pude, sentei-me e escrevi o conto (prontinho na minha cabeça) que está em Contos de homem. Mas às vezes nasce de uma ideia solta. Se eu escrevesse sobre um homem e uma mulher que só se encontram nos carnavais (uma ideia bastante explorada; Noite dos mascarados, do Chico, é isso)? Escrevi então “As cinzas do carnaval”, de Qual é, solidão?. Há também alguns que surgem de birra. Sento-me à mesa e fico catando palavras, montando frase até surgir algum grão de história. Neste caso, embora não venha da inspiração o impulso, ela, misericordiosa, vendo o suor em meu rosto, me acolhe e empurra. Por fim, existem as demandas. A Oito e Meio lançou um livro, Nosotros, 20 contos latino-americanos, no qual 20 escritores contam histórias passadas nos países da América Latina. Peru foi o país que a editora me indicou (“É raro chover em Lima” é o título do meu conto). Eu havia viajado a Lima a trabalho, e era tudo que conhecia e ainda conheço do país. Fiz então um conto que acompanha a ida de um funcionário público a um encontro de estatísticos latino-americanos. A única referência que ele tem do país são os livros de Julio Ramón Ribeyro e Mario Vargas Llosa. Sua estadia na cidade acaba por levá-lo a uma recaída no vício e, em delírio, a se encontrar com os dois escritores (Julio já morto). Outra experiência foi escrever contos bíblicos, uma encomenda da Seleções Reader’s Digest. Grandes histórias da Bíblia tem nomes de peso: Zuenir Ventura e Ignácio de Loyola Brandão. No caso, a editora me mandou as indicações dos textos bíblicos que eu deveria recontar. O nascimento dos livros tem sido uma reunião do que escrevo entre um e outro. Costumo organizá-los em partes, buscando, assim, uma unidade nesses livros internos. Na pandemia, tenho escrito muito (ou revisto textos antigos) e planejo, entre outras coisas, dois livros de contos. Nestes, há, de saída, uma unidade pensada.

Qual é, solidão?, livro de contos de Alexandre Brandão. Foto: Divulgação.
AC: Numa entrevista anterior, falando sobre crônica, você afirmou: “Mesmo sendo objetivo e muito claro no que se vai dizer ao leitor, também é preciso dizer a ele com um pouco de beleza, com ironia ou graça.¨ Desenvolva essa ideia.
AB: Acho que já falei um pouco sobre isso, mas vale dizer que a crônica, além de seus limites com o conto e o artigo de opinião, se aproxima da poesia. É a poesia — no sentido do texto cativante, mas também no sentido mais ordinário, aquele no qual alguém querendo expressar a beleza de uma coisa diz: “nossa, é uma poesia” — que faz da crônica a leitura da qual não escapamos. A crônica e a poesia, no meu caso, saem dos mesmos pontos de sensibilidade e afeto.
AC: Entre os seguidores do canal de Literatura do PortalArteCult, muitos são aqueles que escrevem ou que desejam escrever. Que conselho ou dica você poderia dar a eles?
AB: Leia. Desconfie do que leu. Rechace os conselhos literários, mas nunca deixe de ouvi-los ou lê-los. Leia de novo. Escreva. Jogue fora. Rechace os conselhos que sugerem que você deva jogar fora o que escreveu, mas nunca deixe de ouvi-los ou lê-los. E de jogar fora o escrito e o conselho. Leia mais uma vez. Escreva. Forme um grupo de pessoas que leiam umas às outras. Meta o pau no texto dos outros. Seja humilde quando descerem o pau no seu texto. Jogue fora o texto criticado, e, no mesmo instante ou não, a crítica também. Volte a ler. Escreva. Se arrependa de tudo que jogou fora, seus textos, as críticas. Leia. Escreva. O ciclo é interminável. O escritor é aquele que não se deixa derrotar pelas sucessivas derrotas.

O bichano experimental, livro de crônicas de Alexandre Brandão. Foto: Divulgação.
AC: Por favor, deixe aqui uma amostra do seu trabalho como autor.
AB: Deixarei dois textos inéditos (o miniconto e o poema) e um já publicado em livro (uma crônica de O bichano experimental, Editora Patuá) :
Miniconto
Um pequeno adeus
Foi uma trombada feia. A lataria se retorceu toda, e quem olhava para os carros não conseguia definir os modelos. Um disse me disse se espalhou: morreu todo mundo, não morreu ninguém, um vai morrer em breve, a moça perdeu a perna. A polícia não fez inspeção nem abriu o boletim de ocorrência. Ninguém chamou a ambulância. O morador da esquina onde aconteceu o acidente não reclamou dos carros atrapalhando o acesso a sua casa. Os motoristas passaram a evitar a rua, inventando novos caminhos para chegar aos lugares de sempre. Enfim, o falatório foi a única ação dos habitantes daquela pequena urbe. Os carros ficaram lá, destruídos, e, não demorou muito, com fama de mal-assombrados. Trinta anos depois, uma menina, que pela primeira vez ia sozinha à escola, aproximou-se daqueles dois monturos de ferro velho. No primeiro, ela viu um ninho de pintassilgo. No segundo, uma alma penada conformada, que lhe jogou um pequeno adeus.
Poema
O peixe e o nada
O que do rio se pesca,
o peixe e o nada,
nada por nada
nada por nadar.
Cumprindo a vida, o peixe
ocupando espaço, o nada.
Jantamos o peixe
depois de almoçados pelo nada,
com quem vamos deitar.
Crônica
Lição de surrealismo (Este não é um texto surrealista)
“Pense que a literatura é um dos mais tristes caminhos que levam a tudo. Escreva depressa, sem assunto preconcebido, bastante depressa para não reprimir, e para fugir à tentação de se reler. A primeira frase vem por si, tanto é verdade que a cada segundo há uma frase estranha ao nosso pensamento consciente pedindo para ser exteriorizada.” (Manifesto do Surrealismo, André Breton, 1924)
Enquanto teço o silêncio roubado aos mortos, você borra sonhos e lustra angústias. Vamos engolir um sete a um sem eloquência. Vamos sem ir. Para ver se passa. Se passa a dor. Se a roupa se passa sozinha. Se o dia pássaro. Se o pássaro anoitece. Se a noite adoenta. Se a doença compensa. Se o pensamento cala a boca das sobras palavreadas ao longo da vala incomum da mudez.
Enquanto rego meu choro com caldo sulfúrico, você suspira feito amor perdido, cantando a liturgia turva do ocaso. Do ocaso de caso perdido. Das perdas petrificadas. Das pedras lanhadas no lodo. Do lodo esquecido na mão que o tentou deter. Da detenção dos matadores coxos da ingenuidade.
Preciso, masco ventre e mente. Quando não, desvario vazio, consumido em canudos de doce de leite. Você cata coquinhos na manhã lisa e sem brisa, e eu lhe pergunto se já esculpiu vento num soçobro. Quem inespera meus clamores?
Para mergulhar em tudo que nos é tão próprio e único, o empurrão de um baseado, o gosto ocre-duro do uísque, a dança vertical de um coro de violinos ou o segredo que só os oboés guardam quando soprados. Três perguntas secas descansam à escuridão: De quantos navios nenhuma tábua corrida? De quantos rios nenhuma alma varrida? De quanto dinheiro nenhuma felicidade comprovendida?
Chegarei, sim, no dia não. Chegarei a cavalo, cavalo montado em meu cansaço baio. Papai, tenho piolhos a essa altura da vida. Mamãe, são caraminholas que coçam e caçoam. Nenhum peixe no anzol vergado pela leveza da água — isso que veio da lágrima do peixe, segundo Adriane Garcia. Pisceomasoquistas choram pelo único prazer de nadar nas próprias lágrimas. E nadam. Nado também. Nada. Na(da)dor.
Agora, daqui a pouco, nunca. O tempo coleciona relógios famintos, cuja fome mal tiquetaqueia, berra. O berro atravessa a hora. Ao ir sem ir, a hora é uma luz vagarosa. Você paranda pelo sono dos sapatos e pisa em mim, capacho ao pó recolhido. Somos cágados, sujos filhos de um dos deuses desbraçados, esses mitos que crucifixam uns nos outros. Nós somos o prego. Nós somos o pau chutado da barraca. (E aproveitado na cruz. Também no credo.)
Isso não é tudo.

E aí, gostou? Até a próxima!

César Manzolillo – Colunista do canal LITERATURA
ATENÇÃO: Não deixe de ver a live que fizemos com Alexandre Brandão :

Clique abaixo para mais entrevistas exclusivas com escritores renomados
e com novos autores sobre seus lançamentos:
…e não deixe de ver também :

LIVES
AC Encontros Literários !
















Pingback: DIA NACIONAL DO LIVRO: Confira as dicas de livros que recebemos de vários autores sensacionais | ARTECULT.COM