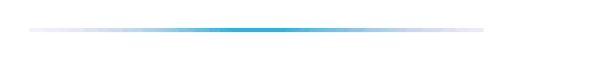Segui ao barco de meus amigos. Depois de uma simbiose temática puxada pela timoneira Ana Gosling – deste mesmo canal de literatura -, sigo-me a ele também, o deserto, como alegoria a que tanto nos atamos, por estarmos desertificados. É como se a temática da solidão – tão cara a Garcia Marquez – nos tomasse, nos tirasse do companheirismo, do que deve ser coletivo. Estamos desertos, impedidos, impelidos em um mundo magnânimo de nadas, plurificado no silêncio valoroso dos coletivos. Nada nos toma, nos preenche, no faz plenamente felizes.
Segui ao barco de meus amigos. Depois de uma simbiose temática puxada pela timoneira Ana Gosling – deste mesmo canal de literatura -, sigo-me a ele também, o deserto, como alegoria a que tanto nos atamos, por estarmos desertificados. É como se a temática da solidão – tão cara a Garcia Marquez – nos tomasse, nos tirasse do companheirismo, do que deve ser coletivo. Estamos desertos, impedidos, impelidos em um mundo magnânimo de nadas, plurificado no silêncio valoroso dos coletivos. Nada nos toma, nos preenche, no faz plenamente felizes.
Essa tônica de plural felicidade, petrificada em constantes fotos e postagens e sorrisos falsos em pseudoações multifacetadas e constantes – que o diga a doença contemporânea do sélfie, catalogada como uma psicossomose de nossos tempos – no fundo nos esconde. E por mais que sejamos tantos seres humanos nesse planetinha, nosso universo não comunga mais outros universos. Queremos ser vistos, enviamos “nudes” – outro sintoma de nossa necessidade de exposição extrema – mas não damos chances reais a sermos conhecidos.
E olha que nos catalogamos. Pessoas com visões mais virulentas sobre si criam verbetes no Wikipedia com seus nomes. Divulgam-no. O Facebook é o pulverizador desta somose, criando vitrines que nos inunda de significativos momentos patológicos e forçosos. Depois que entendi mesmo o que é esse tal de “rosto livro”, li apenas a ficção em que cotidianamente nos tornamos. Por fim, viciamo-nos no outro. O outro é objeto de consumo.
Existe uma tendência no universo da literatura que se cunhou por Autoficção. Em nada se compara ao que vemos, a essa desertificação, a esse vazio apressado, de tudo o quanto antes agora. Zygmunt Bauman genialmente definiu nossa era como de relações líquidas. Essa fluidez, sem tempo a uma âncora, a parar em uma ilha, está aqui em constante maré, em idas e vindas de ondas tsunâmicas, rodeando perfis em redes sociais das mais diversas. Eu, que pertenci a uma última geração sem esses adventos tecnológicos, ainda consigo conviver com um próximo, perfilar uma troca em um bar, com uma cerveja, conversar. Ah, conversar. Essa arte em profusa extinção. Posso apenas estar sendo preconceituoso – melhor, sisudo, algo de nosso processo natural de velhice -, no entanto os mais jovens parecem perder esse intento. Preferem os imediatismos dos programas. Sejamos sinceros, é tudo tão mais rápido. Não sei se todos conhecem um aplicativo de relacionamento chamado por Tinder. É um catálogo de pessoas a serem aproveitadas. Ali há a primeira leitura a se conquistar um encontro. A natureza do encontro, entretanto, é outra. É pura degustação, aproveitamento momentâneo. E ali há todas as identidades de homens e mulheres. Se der o famoso “match”, pois bem, segue a rima.
 Nesse apego à pressa, há o conluio com o fim do ócio. Aquele momento de puro nada, ou do nada puro, simples, sintético, significativo. Apegados a ideologias de um mundo de corporações, há essa máxima da excelência da produção, de uma corrupção do carpe diem, do aproveitar ao máximo para o viver arfando. Isso me fez lembrar de um texto que li em uma aula, quando bem garoto, sob o advento da informática. Um dos argumentos que validava o computador é o fato de a máquina fazer coisa por nós, dando-nos mais liberdade para a vida. E o que temos hoje é algo longe desta realidade. O computador levou o trabalho para casa. O telefone celular nos leva ao trabalho constantemente. Eu, garoto, supus ter o meu pai um pouco mais, pois ele passava o dia inteiro na gráfica em que trabalhava. Era enorme, de um grande jornal, máquinas assustadoras, cheiro de tôner, barulho ensurdecedor, uma máquina ajudando meu pai seria meu pai mais cedo em casa. Não foi. Nunca foi. Nunca será. E agora, do trabalho nunca sairemos. Sob o manto absurdo do co-working.
Nesse apego à pressa, há o conluio com o fim do ócio. Aquele momento de puro nada, ou do nada puro, simples, sintético, significativo. Apegados a ideologias de um mundo de corporações, há essa máxima da excelência da produção, de uma corrupção do carpe diem, do aproveitar ao máximo para o viver arfando. Isso me fez lembrar de um texto que li em uma aula, quando bem garoto, sob o advento da informática. Um dos argumentos que validava o computador é o fato de a máquina fazer coisa por nós, dando-nos mais liberdade para a vida. E o que temos hoje é algo longe desta realidade. O computador levou o trabalho para casa. O telefone celular nos leva ao trabalho constantemente. Eu, garoto, supus ter o meu pai um pouco mais, pois ele passava o dia inteiro na gráfica em que trabalhava. Era enorme, de um grande jornal, máquinas assustadoras, cheiro de tôner, barulho ensurdecedor, uma máquina ajudando meu pai seria meu pai mais cedo em casa. Não foi. Nunca foi. Nunca será. E agora, do trabalho nunca sairemos. Sob o manto absurdo do co-working.
Eu, tal qual todos, que carrego o meu computador para todos os lados, posso fazer provas, escrever esta coluna, enviá-la e dar voz a prazos alucinantes. Esse todo alucinante é o que nos desertifica. Somos uma mera peça nesse jogo social. Descartáveis pelo neoliberalismo dos tempos. Esse novo senso que libera é na verdade um discurso bem engendrado de descarte, de suposta perecibilidade. Perecemos por uma suposta passagem de idade. Triste. Desumano. Catalogado para o caos dos sentimentos. Deserto. Posso até me validar em um poema:
De
certo em certo
Desterro
o que é deserto e desespero
Se espero que dê certo
Nessa ânsia absoluta sobre mim
Sob mim
Há uma sombra
Que treme
teme
se preme
em todo deserto
Dessert em inglês quer dizer sobremesa
O que me há sobre a mesa
Tem o gosto amargo das cobranças
de todas
de todos
Que muito de mim querem
Eu também quero de mim
um todo
que não existe mais
Desperto deserto de desespero
estou sozinho
alucinado
em luzes que não me deixam mais dormir.
(E o despertador toca, bramindo meu peito assoberbado,
que se invalida de ar, de calma, de pureza
o que cobram de mim e a falácia infinita da destreza)
Entrego-me ao ócio da roupa asseada
do perfume bem presente
da barba feita, do cabelo, da maquiagem que invalida essência
Demência
Em sair no horário em que tudo fica
Deserto!
Pois bem, um poema escrevi.
E por mais que analise esses desertos soberbos, o tema partiu de uma companheira. Outros companheiros sobre ele escreveram (veja AQUI o texto de Gemkos Astazerld no Canal Espiritualidade). Nessa lida com o inaudível de si, compomos coletivamente. O deserto mostrou muito de nós.
Muito.
MÁRCIO CALIXTO