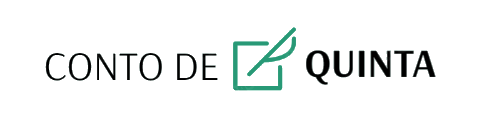Foto: Levi Meir Clancy, em Unsplash
Caber na mala de papai me salvou. Miúdo, abracei os joelhos e entrei na bagagem de couro, quase vazia, antes de sermos parados. Havíamos deixado a casa de madrugada, num impulso de sobrevivência. O plano era manter-se a salvo, sempre, por mais um dia, até aqueles dias acabarem.
Meus pais foram arrancados do carro. Ouvi gritos. Outros carros. Tiros. Distingui suas súplicas entre as vozes embaralhadas. Petrifiquei de medo, mas fui esquecido no banco de trás, na mala coberta pelas roupas puxadas do baú revirado pelos soldados. Até o ambiente aquietar-se, fiquei imóvel, como se qualquer movimento pudesse trazer a noite para dentro do meu esconderijo. A mala era meu abrigo. Ainda havia o cheiro do couro das botas do meu pai. Ainda tinha, sobre mim, o lençol bordado por minha mãe. Esperei amanhecer.
Estava no meio do nada. Para onde caminhar quando não se sabe o seu destino? Como reconhecer a chegada, sem o abraço materno? Peguei o cantil do meu pai. Segui em frente, para onde os faróis do carro apontavam. Andei muitas horas até a cidade fronteiriça.
Parei na porta de um armazém. Talvez a infância rendesse um prato de comida ou uma fatia de pão. Mas não. O dono do estabelecimento trouxe restos do almoço e os jogou aos cães, no cercado ao lado da porta. “Nem pense em comer da comida dos meus bichos”, me disse. Eu nem poderia: não alcançava o portão. Mas, ávido de afeto, espremi a mão pequena entre as grades para acariciar os cães.
Soldados chegaram à praça, escoltando um grupo de prisioneiros, a caminho da ferrovia. Misturado na multidão, vi, entre eles, meu pai. Ele também me viu e, por um instante, seu rosto se iluminou. Olhou para o alto, juntou as mãos amarradas no peito e agradeceu por minha vida. Fez sinal de silêncio, protegendo minha identidade. Uma despedida em segredo. Chorei como um menino sabe chorar. Para onde ir quando o mundo acabou?

Foto: Mateus Campos Felipe, em Unsplash
Percebendo a cena, um padre se apresentou a mim. Abrigou-me na igreja da praça, me serviu um prato de sopa e me ofereceu um teto. Eu o ajudaria nas missas. Vivendo como um menino católico, vindo de um orfanato, me protegeria da curiosidade alheia. “Mas, padre, não acredito em Deus”, falei. Pôs a mão na minha cabeça e disse: “eu também não, meu filho; não mais”. Onde vive a esperança quando crianças e religiosos perdem a fé? Sobrevivo desde então. Por mais um dia, até que esses dias acabem. Olhando, de longe, os trens partirem vazios. Esperando, há anos, trazerem de volta minha paz.

Ana Lucia Gosling (@analugosling)


Confira as colunas do Projeto AC Verso & Prosa:
com César Manzolillo